Imagens que nos constituem
No dia primeiro de março de 1964
minha família mudou-se par Porto Alegre. Saímos da pequena Forqueta e viemos
para o número 276 da Dario Pederneiras, bairro Petrópolis. A distância era de
cento e poucos quilômetros, mas a travessia maior do que a transposição de
espaço era o cruzamento do tempo. De lá onde o tempo era marcado pelo sino da
igreja e pelos rituais dominicais, pelas ruas vazias e poeirentas das tardes de
outono, pelo movimento sazonal da carroças trazendo uva para a cooperativa e,
no dia a dia, pela sirene da tanoaria que marcava o inicio e fim de cada turno,
Sísifo construindo barris. E também pela hora de ir e voltar do Grupo Escolar Francisco
Generozzi, uma caminhada preguiçosa depois do café com leite e do saudoso pão
matinal molhado no sumo do bife.
A praça de Forqueta, em frente a
igreja, o viaduto por cima dos trilhos do trem, a estação ferroviária que
guardava a profissão mais enigmática daquele tempo, a de guarda chaves, quase
tão importante quando o vice-prefeito. Ali no entorno da estação onde se jogava
bolita as custas do carvão depositado e sedimentado por anos de pisadas por
sapatos e pés descalços em seu caminhos de recepção e despedida dos seus que
iam e vinham anunciados pelo apito eufórico da Maria Fumaça. Mais atrás, o
colégio, o clube, o campo de futebol do União Forquetense, a fabrica de
garrafões e todo o universo polivalente de vimes que tanto serviam para cria
objetos de nossas imaginações, cavalos, armas e donzelas que percorríamos como
cavaleiros andantes aquele mágico paraíso que a memória insiste em inventar.
Pois foi desta Macondo perdida no
tempo que partimos em direção a capital do Estado e nos estabelecemos no pacato
bairro de Petrópolis, onde os sobrados reinavam soberanos não mais sobre ruas
de terra batida, mas sim sobre modernos leitos de paralelepípedos. Partimos e,
de uma hora para outra, como uma janela do tempo que se abre e transposta, num
instante no passado noutro estávamos em Porto Alegre, março de 64, a pouco dias
do golpe militar do dia primeiro de abril daquele ano.
O sobrado era imenso, maior do
que a casa velha de Forqueta, e muito maior também do que a casa nova
construída de alvenaria, no terreno do lado, com todas a novidades da modernidade que os
anos 60 anunciavam. A viagem foi rápida, mas o tempo de absorção da
mudança nem tanto. Durante muitos fins de semana saíamos da capital para
encontrar o conformo num prosaica intimidade daqueles que se conheciam pelo
nome, sobrenome, origem, pais avós e regiões de onde as família saíram da
Itália em busca da superação da fome no Novo Mundo.
Nossa casa em Porto Alegre tinha
uma sala de almoço com vidros e basculantes e era cheia de flores e plantas e
por isso ganhara o nome de jardim de inverno. Pois foi no jardim de inverno que
surgiu um dia o quadro do cão de caça. Uma moldura clássica, com uma tela
grande, onde se destacava um setter inglês, orelhas caídas, pelagem preta e
branca. Olhar atento, perna direita no ar, prestes a agir. Havia um campo e um
muro de pedra ao longo do quadro a óleo. A assinatura do pintor estimulava a minha fantasia pois que
lembrava um musico. Stavisnki. Durante os almoços e conversar se investigava a
origem do quadro. A mitologia familiar dava conta tratar-se de um caçador
preferido de meu pai. Bernardino sempre fora afeito a caçadas de perdizes como
de habito na comunidade italiana. Resultando que anos a após ano se acumulavam perdizes em
conserva numa infinidade de potes e, nos dias de festa, viravam um delicioso
jantar com direito a massa e molho.
O cão de caça, na sala do sobrado
de Petrópolis embalou almoços e jantares. Embalou as noites de insônia e
devaneios. Ali em frente ao quadro desfilaram milhares de campeonatos de
futebol de mesa que ele assistia impassível frente aos gritos e choros de
desespero por gols perdidos ou botões que se espatifavam ao despencar da mesa
em manobras suicida para colocar a bola na rede. O quadro foi testemunha dos fatos e mudanças.
Quando se ampliou o sobrado, ganhado um churrasqueira nova nos fundos da casa,
uma lavanderia, um quarto de empregadas e um apartamento de visitas, ele ainda
permaneceu no jardim de inverno, ali, impassível e invariante. Guardião das
horas paradas.
Até que sem que qualquer pessoa
percebesse o quadro sumiu.
Anos depois eu sai de casa, fui
morar no Menino Deus, e nunca mais dormi no sobrado da Dario.
Um domingo vasculhava na garagem
em busca de adereços e ornamentos para um peça de teatro, me defrontei com o
quadro. Ali estava ele de novo, o cão de caça, ainda atento, em busca,
cheirando algo no ar. Olhando o futuro que se intuía na expressão atenta de seu
corpo. Mas a tela dava sinais do tempo. Pó tomava conta tanto da moldura como
obscurecia a o azulado do céu e o branco da pelagem. E principalmente, dois
rasgos nas telas davam uma ideia de morte eminente. Levei o quadro para minha
casa e consegui um jovem artista da Casa de Cultura Mario Quintana para
restaurar. Ele colou, limpou, revitalizou as cores e de novo estava o cão ali a
proteger e atento aos cheiros e ao movimentos. Restaurado guardava as cores
vivas de outros tempos.
Foi nessa época que meu pai, num
dos últimos natais do sobrado de Dario, distribuiu suas armas de caça. Armas
acumuladas nos anos de chumbo da ditadura quando éramos envolvidos pelo medo e
a paranoia. Quando prenderam o General Paiva no sobrado do lado e o exercito
abordou através da nossa garagem com jipes e metralhadoras. Armas que meu pai
se obrigava a carregar na cintura para trabalhar na agencia central do
Banrisul. Tínhamos um arsenal. Lembro de
uma Luger alemã que usava para brincar de Segunda Guerra Mundial, um Taurus 38
que meu pai carregava na cintura e um Rossi 22 prateado que descobrimos o
esconderijo e, brincávamos sem saber do risco que estávamos envolvido. Tinha
ainda uma Winchester, igual aos filmes de mocinho que era a preferido. E as
armas de caça. Várias espingardada. Foi neste Natal que ele distribuiu as
armas. Simbolismo obscuro mas evidente. Eu ganhei um Sorda, arma espanhola,
12milimetros, cravejada de prata que, paradoxalmente, nunca foi usada. Mas veio
com um bilhete onde meu pai contava da emoção da primeira caçada e de sua
primeira perdiz abatida, que o levou as lágrimas. Guardei o Sorda no armário e
coloquei o quadro na sala da minha casa na Lauro de Oliveira.
Minha filha, no mês que virá, vai
sair da casa da Lauro de Oliveira. O destino da casa ainda incerto. Espero não
ter que ir ao chão como o sobrado da Dario para dar lugar a mais um arranha céu
movido pela especulação imobiliária.
Estudo a possibilidade de tornar a casa da Lauro de Oliveira onde vivi quase vinte anos num Centro Cultural,
um teatro de bolso e assim seguir no sonho de inventar um mundo melhor. Frente a isso, resolvi levar o quadro do
setter inglês, o cão de caça que mitologicamente acompanhou meu pai em suas
caçadas e que esteve presente na casa da Dario Pederneiras, que transitou
silencioso e atento há quase cinquenta anos os passos da nossa família,
suportou o exilio e maus tratos da umidade da garagem, seguiu os filhos que ali
crsceram e os filhos dos filhos que nasceram, impassível frente a ascensão e
queda do sobrado, e tanto estimulou a imaginação, o quadro, veio finalmente
parar na sala de espera do meu consultório. E ele está ali, como uma história
repleta de vida, cheia de detalhes, nuances, afetos condensados, fonte de
sentimentos dos laços afetivos e marcas do tempo, emblema daquilo que passa,
mas acima de tudo, marca daquilo que fica. É o que somos e dessa matéria nos constituímos.
Imagens que remanecem.

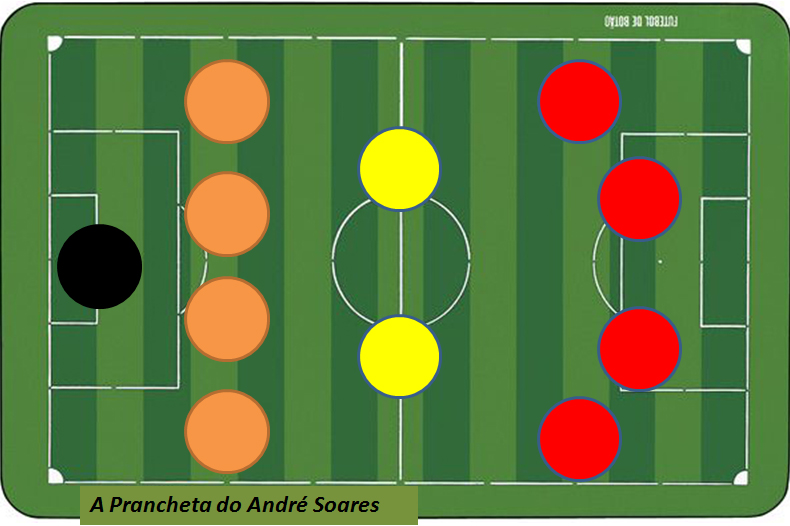
Comentários