Julio Conte em Encontros com o Professor
Perfil
O psicanalista, diretor de teatro, ator e dramaturgo Júlio Conte nasceu em Caxias do Sul, em 1955. Formou-se em Direção Teatral (1984) e em Me- dicina (1985), pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Com especialização em Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica (1990) no Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, é fundador e docente do Instituto W.R.Bion. Escre- veu e dirigiu Bailei na Curva, Não Pensa Muito Que Dói, Cabeça Quebra Cabeça, Zona Proibida, Pedro e a Girafa, Um Negócio Chamado Família, A Coisa Certa, Se Meu Ponto G Falasse, O Bafafá da Calça Azul-Marinho, Mecânica do Amor, entre outras.
O psicanalista, diretor de teatro, ator e dramaturgo Júlio Conte nasceu em Caxias do Sul, em 1955. Formou-se em Direção Teatral (1984) e em Me- dicina (1985), pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Com especialização em Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica (1990) no Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, é fundador e docente do Instituto W.R.Bion. Escre- veu e dirigiu Bailei na Curva, Não Pensa Muito Que Dói, Cabeça Quebra Cabeça, Zona Proibida, Pedro e a Girafa, Um Negócio Chamado Família, A Coisa Certa, Se Meu Ponto G Falasse, O Bafafá da Calça Azul-Marinho, Mecânica do Amor, entre outras.
Dentre os prêmios recebidos, estão o de Melhor
Espetáculo e Melhor Diretor por Não Pensa Muito
Que Dói (1982) e Troféu Açorianos – Prêmio Espe-
cial do Júri (1983) e Os Melhores do Ano: Prêmio
Inacen Ministério da Cultura, (ex-Troféu Mambem-
be) (1985) por Bailei na Curva. A peça – em ence-
nação gaúcha – foi vista por mais de 900 mil pes-
soas e já recebeu cerca de 28 montagens em todo
o Brasil. Outros destaques são as conquistas do
Troféu Açorianos de Literatura – Texto Dramático
em 1999, por Se Meu Ponto G Falasse, escrito em
parceria com Patsy Cecato e Heloísa Migliavacca,
e em 2006, por O Rei da Escória.
Júlio Conte
25 de março de 2010, no StudioClio
Acho que eu sou um pensador prático. Penso
coisas que a gente pode fazer. Acho que esta
é uma função múltipla na vida: fazer as coisas
acontecerem. Fico muito ansioso quando as coisas enrolam. Na minha trajetória tiveram determinados momentos em que fui um observador absoluto. Eu vi- via no cinema, via as coisas acontecerem, via meus irmãos fazendo coisas e tal, sem intervir ou com muito pouca ação. Talvez estivesse alimentando alguma coi- sa para ser feita, imaginando. Tiveram momentos na minha vida em que eu comecei a agitar as ideias, fazer elas não pararem – um amigo meu fala em aceleração criativa. Ideia é uma coisa que tem que virar outra, não é para ficar parada.
Macondo da Serra
Nasci em Caxias, mas morei em Forqueta1. Para quem não conhece, é uma espécie de Macondo2, é uma “cidade mítica”. Hoje em dia, é o núcleo mais rico de Caxias. A área industrial se desenvolveu bastante, as grandes empresas estão em Forqueta. Mas, antes, quando eu morava lá, era uma vila a 15 quilômetros da cidade. Então, quando eu vim para Porto Alegre foi um negócio brusco, um menino vindo do Interior para uma cidade grande. Meu pai trabalhava na área de vinícola, na Cooperativa Vitivinícola Forqueta. Aí ele começou com cargos políticos, foi prefeito de Caxias e depois diretor do Banrisul [Banco do Estado do Rio Grande do Sul]. Quando ele veio para o Banrisul, a família toda veio junto – tenho seis irmãos, família grande. Tinha uma coisa que eu fazia, que é meio nebulosa para mim, mas tem muito a ver com tudo que acabei fazendo depois: eu brincava muito com tesouras e recortes, era um ar- tista, mas não sabia. Pegava papelão, cola, tesoura e criava um mundo ali. Fazia foguetes, a lua, sputniks3 e tal, esses negócios dos anos 1960. Pena que não guar- dei. As professoras e os colegas diziam: “Ah, deixa eu ver.” Mas, para mim, era uma brincadeira. Quando che- guei em Porto Alegre, minha mãe me levou ao Theatro São Pedro, onde, ao lado, tinha um apêndice que era uma espécie de escolinha de arte que, eu acho, depois foi transferida para o Instituto de Artes [da Universida- de Federal do Rio Grande do Sul]. Eu cheguei lá e não tinha vaga. Aí me dispersei. Tenho uma trajetória preo-
acontecerem. Fico muito ansioso quando as coisas enrolam. Na minha trajetória tiveram determinados momentos em que fui um observador absoluto. Eu vi- via no cinema, via as coisas acontecerem, via meus irmãos fazendo coisas e tal, sem intervir ou com muito pouca ação. Talvez estivesse alimentando alguma coi- sa para ser feita, imaginando. Tiveram momentos na minha vida em que eu comecei a agitar as ideias, fazer elas não pararem – um amigo meu fala em aceleração criativa. Ideia é uma coisa que tem que virar outra, não é para ficar parada.
Macondo da Serra
Nasci em Caxias, mas morei em Forqueta1. Para quem não conhece, é uma espécie de Macondo2, é uma “cidade mítica”. Hoje em dia, é o núcleo mais rico de Caxias. A área industrial se desenvolveu bastante, as grandes empresas estão em Forqueta. Mas, antes, quando eu morava lá, era uma vila a 15 quilômetros da cidade. Então, quando eu vim para Porto Alegre foi um negócio brusco, um menino vindo do Interior para uma cidade grande. Meu pai trabalhava na área de vinícola, na Cooperativa Vitivinícola Forqueta. Aí ele começou com cargos políticos, foi prefeito de Caxias e depois diretor do Banrisul [Banco do Estado do Rio Grande do Sul]. Quando ele veio para o Banrisul, a família toda veio junto – tenho seis irmãos, família grande. Tinha uma coisa que eu fazia, que é meio nebulosa para mim, mas tem muito a ver com tudo que acabei fazendo depois: eu brincava muito com tesouras e recortes, era um ar- tista, mas não sabia. Pegava papelão, cola, tesoura e criava um mundo ali. Fazia foguetes, a lua, sputniks3 e tal, esses negócios dos anos 1960. Pena que não guar- dei. As professoras e os colegas diziam: “Ah, deixa eu ver.” Mas, para mim, era uma brincadeira. Quando che- guei em Porto Alegre, minha mãe me levou ao Theatro São Pedro, onde, ao lado, tinha um apêndice que era uma espécie de escolinha de arte que, eu acho, depois foi transferida para o Instituto de Artes [da Universida- de Federal do Rio Grande do Sul]. Eu cheguei lá e não tinha vaga. Aí me dispersei. Tenho uma trajetória preo-
cupada com a arte, com a criação que é muito grande,
mas é uma coisa muito natural.
Ser ou não ser?
Eu estava fazendo a faculdade de Medicina, aí no meio do curso teve uma greve, e a gente começou a fazer teatro, dentro da faculdade. O grupo se reunia na minha casa. Na real, hoje pensando com a distância dos tem- pos, com a experiência e os cabelos brancos, a gente se dá conta do seguinte: era um grupo que estava se conhecendo, segundo ano de faculdade, todo mundo ansioso. Então, era um lugar para pegar alguém, para namorar. O pessoal se reunia ali, fazia os exercícios, era um lugar que a gente estava procurando para dar vazão a algumas coisas. E aí surgiu este grupo, e deste grupo eu gostei. Eram todos estudantes de Medicina, colegas de faculdade. Hoje são médicos, famosos e tal. Eu descolei desse grupo e entrei na faculdade de teatro no ano se- guinte. Comecei várias coisas, rodei em algumas maté- rias de Medicina, aí fazia mais matérias de teatro, depois mais de Medicina. Foi um período difícil, porque tinha saído de casa, tinha que me sustentar, tinha toda uma pressão familiar para não fazer isso. Meu pai me cha- mou: “Se tu queres fazer Medicina, eu pago a faculdade – eu estava morando sozinho –, pago as tuas contas. Mas se quiseres fazer teatro, tu te viras”. Bem, então vou me virar, né? O cara não pode perder uma destas. Ele me deu a oportunidade de enfrentar uma situação difícil. Há pouco tempo encontrei no Facebook a minha primeira patroa. Ela era dona de uma escola, a Balão Vermelho, e eu estava arrasado, não tinha mais dinheiro. Passei na frente da escola – “vamos ver o que acontece” –, bati na porta e a mulher abriu. Isso era final de 1970. Imagina eu entrando: cabelo comprido, liso, parecia o David Gilmour, do Pink Floyd, nos áureos tempos, bolsa peruana toda colorida, calça larga e camiseta cheia de bordados. E a mulher: “Eu estou precisando mesmo de alguém que dê aula de teatro”. Me contratou e eu comecei a trabalhar. Nunca tinha dado aula na minha vida, estava no segundo ano de teatro. Eu tinha ideias de ensaios, aí fui desenvol- vendo jogos, etc., criando coisas. Naquele ano, a Balão Vermelho me salvou.
Busca da identidade
O espaço que eu estava tentando pleitear em detereinado momento, primeiro dentro do teatro, era muito exí- guo. A profissionalização no Rio Grande do Sul era muito pequena. Os espetáculos que a gente tinha na época eram peças remontadas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então era assim: alguém conseguia o direito para dois ou três anos depois montar aqui em Porto Alegre com elenco local. O nosso teatro era uma repetidora atrasada dos sucessos do Rio e São Paulo. Então o que acontece? Começam a ter os dramaturgos. Carlos Carvalho e Ivo Bender são dois marcos, porque eles escreviam. E aí eu comecei a ver, do que precisa o teatro? O teatro precisa de um autor nacional, precisa de um texto nacional que fale da realidade que a gente vive e precisa de um públi- co. Mesmo no Rio e São Paulo, nos áureos tempos, os atores, em determinado momento, eram imitações do teatro europeu. O teatro brasileiro começa com João Ca- etano, com Martins Pena, quando tem um autor falando de coisas brasileiras e um ator que interpreta de forma brasileira. Não é um imitador, um ator com sotaque por- tuguês falando naquele estilo que ainda pegou um pouco o Procópio Ferreira, toda essa turma. Quando eu entrei no teatro tinha um panorama muito difícil. Então a gente precisava criar um espaço local, uma dramaturgia local, uma interpretação gaúcha, essa era a ideia. O teatro dos anos 1980, do final dos anos 1970, em Porto Alegre, foi esta busca de identidade, que aparece essencialmen- te com School’s Out, que é um espetáculo de 1979.
Ser ou não ser?
Eu estava fazendo a faculdade de Medicina, aí no meio do curso teve uma greve, e a gente começou a fazer teatro, dentro da faculdade. O grupo se reunia na minha casa. Na real, hoje pensando com a distância dos tem- pos, com a experiência e os cabelos brancos, a gente se dá conta do seguinte: era um grupo que estava se conhecendo, segundo ano de faculdade, todo mundo ansioso. Então, era um lugar para pegar alguém, para namorar. O pessoal se reunia ali, fazia os exercícios, era um lugar que a gente estava procurando para dar vazão a algumas coisas. E aí surgiu este grupo, e deste grupo eu gostei. Eram todos estudantes de Medicina, colegas de faculdade. Hoje são médicos, famosos e tal. Eu descolei desse grupo e entrei na faculdade de teatro no ano se- guinte. Comecei várias coisas, rodei em algumas maté- rias de Medicina, aí fazia mais matérias de teatro, depois mais de Medicina. Foi um período difícil, porque tinha saído de casa, tinha que me sustentar, tinha toda uma pressão familiar para não fazer isso. Meu pai me cha- mou: “Se tu queres fazer Medicina, eu pago a faculdade – eu estava morando sozinho –, pago as tuas contas. Mas se quiseres fazer teatro, tu te viras”. Bem, então vou me virar, né? O cara não pode perder uma destas. Ele me deu a oportunidade de enfrentar uma situação difícil. Há pouco tempo encontrei no Facebook a minha primeira patroa. Ela era dona de uma escola, a Balão Vermelho, e eu estava arrasado, não tinha mais dinheiro. Passei na frente da escola – “vamos ver o que acontece” –, bati na porta e a mulher abriu. Isso era final de 1970. Imagina eu entrando: cabelo comprido, liso, parecia o David Gilmour, do Pink Floyd, nos áureos tempos, bolsa peruana toda colorida, calça larga e camiseta cheia de bordados. E a mulher: “Eu estou precisando mesmo de alguém que dê aula de teatro”. Me contratou e eu comecei a trabalhar. Nunca tinha dado aula na minha vida, estava no segundo ano de teatro. Eu tinha ideias de ensaios, aí fui desenvol- vendo jogos, etc., criando coisas. Naquele ano, a Balão Vermelho me salvou.
Busca da identidade
O espaço que eu estava tentando pleitear em detereinado momento, primeiro dentro do teatro, era muito exí- guo. A profissionalização no Rio Grande do Sul era muito pequena. Os espetáculos que a gente tinha na época eram peças remontadas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então era assim: alguém conseguia o direito para dois ou três anos depois montar aqui em Porto Alegre com elenco local. O nosso teatro era uma repetidora atrasada dos sucessos do Rio e São Paulo. Então o que acontece? Começam a ter os dramaturgos. Carlos Carvalho e Ivo Bender são dois marcos, porque eles escreviam. E aí eu comecei a ver, do que precisa o teatro? O teatro precisa de um autor nacional, precisa de um texto nacional que fale da realidade que a gente vive e precisa de um públi- co. Mesmo no Rio e São Paulo, nos áureos tempos, os atores, em determinado momento, eram imitações do teatro europeu. O teatro brasileiro começa com João Ca- etano, com Martins Pena, quando tem um autor falando de coisas brasileiras e um ator que interpreta de forma brasileira. Não é um imitador, um ator com sotaque por- tuguês falando naquele estilo que ainda pegou um pouco o Procópio Ferreira, toda essa turma. Quando eu entrei no teatro tinha um panorama muito difícil. Então a gente precisava criar um espaço local, uma dramaturgia local, uma interpretação gaúcha, essa era a ideia. O teatro dos anos 1980, do final dos anos 1970, em Porto Alegre, foi esta busca de identidade, que aparece essencialmen- te com School’s Out, que é um espetáculo de 1979.
School’s Out é uma história do Pedro Santos e do Grupo
Vende-se Sonhos, que falava da trajetória de um grupo
de alunos até o vestibular, no último ano do colégio, que
depois gera o Verdes Anos6, gera uma série de movi-
mentos do teatro e do cinema. O imaginário todo era
este. Eu participei diretamente de todo esse proces-
so porque eram pessoas do meu convívio. Era uma
turma, minha doce turminha. Essa peça, School’s
Out, fez muito sucesso, foi um fenômeno absurdo de
comunicação e de público.
Na sequência
Fiz um trabalho dentro da faculdade, que se chamava Não Pensa Muito que Dói, que contava a história de uma turma da faculdade, e depois o Bailei na Curva, que conta a história de uma geração. Foram três traba- lhos, dois em que eu participei diretamente e um não, mas que desenham um panorama. Quando a gente conseguiu fazer o Bailei... também conseguiu conta- tos com produtores, por exemplo. O Geraldo Lopes, da Opus [produtora de eventos de Porto Alegre], acreditou no Bailei, bancou, e criou um esquema muito profissio- nal. E o profissionalismo fez diferença. Nós tínhamos um texto que falava de Porto Alegre, atores que inter- pretavam com sotaque porto-alegrense, com o jeito porto-alegrense, falando “tu” em vez de “você“ e um produtor investindo aqui. Criou um mercado, criou um espaço, marcou.

Na sequência
Fiz um trabalho dentro da faculdade, que se chamava Não Pensa Muito que Dói, que contava a história de uma turma da faculdade, e depois o Bailei na Curva, que conta a história de uma geração. Foram três traba- lhos, dois em que eu participei diretamente e um não, mas que desenham um panorama. Quando a gente conseguiu fazer o Bailei... também conseguiu conta- tos com produtores, por exemplo. O Geraldo Lopes, da Opus [produtora de eventos de Porto Alegre], acreditou no Bailei, bancou, e criou um esquema muito profissio- nal. E o profissionalismo fez diferença. Nós tínhamos um texto que falava de Porto Alegre, atores que inter- pretavam com sotaque porto-alegrense, com o jeito porto-alegrense, falando “tu” em vez de “você“ e um produtor investindo aqui. Criou um mercado, criou um espaço, marcou.
Vigor
Eu escrevi alguns anos atrás que grupo de teatro nessa época é como banda de rock em determinado momento, é que nem hip hop agora. Todo mundo tinha um grupo de teatro, todo mundo estava fazendo uma peça. Era um momento que vinha desde Pequenos Burgue- ses, de Roda Viva, do Teatro Oficina, do Teatro de Are- na7 e, quer dizer, o cerne da inserção política estava no teatro. Nos anos 1960, 1970 e começo dos anos 1980, o movimento teatral no Brasil tinha uma importância muito maior do que hoje. Hoje, o teatro não tem tanta importância – não que ele não seja importante –, não tem tanta influência no pensar, no ser, no agir. A gente ia para o teatro se alimentar de uma identidade, de uma personalidade. Isso é que me levou para o teatro. Eu acho que o teatro perdeu um pouco a força, este vigor.
Repressão
A abertura democrática, a rigor, seria em 1985 com Tancredo Neves, com a eleição. Tancredo morreu em 21 de abril de 1985. O Bailei estreia em outubro de 1983. O ano de 1984 é todo Diretas Já, do qual a gente participou. Então, ajudou a gente, como em- preendimento, como teatro, e o teatro como inserção social, porque a gente ia para as passeatas. É chato dizer isso, mas todo o movimento repressivo ajudou o teatro mais do que atrapalhou. Tanto que, quando veio o final da censura, um monte de texto engavetado não tinha sentido, não tinha qualidade artística. Isto a gente tem que reconhecer, isso gerava uma forma de pensar, uma forma de produzir, uma forma de criar, uma forma de escrever que depois teve que achar um caminho. Também todo este movimento, toda esta época, defi- nia bem o nosso público. Tinha alguém que queria ver alguma coisa e tu já sabias onde estava. Hoje, o público está muito disperso. O que fazer é uma grande ques- tão. O que falar, quando falar, para quem falar é um problema muito sério. É muito mais difícil hoje. Expectativas
Eu acredito muito no teatro. Acho que os trabalhos que tenho feito sempre têm buscado alguma coisa que en- volva este processo de identidade e de reflexão. Uma peça que eu acho muito importante e que teve uma repercussão média é O Rei da Escória, que é sobre a
Eu escrevi alguns anos atrás que grupo de teatro nessa época é como banda de rock em determinado momento, é que nem hip hop agora. Todo mundo tinha um grupo de teatro, todo mundo estava fazendo uma peça. Era um momento que vinha desde Pequenos Burgue- ses, de Roda Viva, do Teatro Oficina, do Teatro de Are- na7 e, quer dizer, o cerne da inserção política estava no teatro. Nos anos 1960, 1970 e começo dos anos 1980, o movimento teatral no Brasil tinha uma importância muito maior do que hoje. Hoje, o teatro não tem tanta importância – não que ele não seja importante –, não tem tanta influência no pensar, no ser, no agir. A gente ia para o teatro se alimentar de uma identidade, de uma personalidade. Isso é que me levou para o teatro. Eu acho que o teatro perdeu um pouco a força, este vigor.
Repressão
A abertura democrática, a rigor, seria em 1985 com Tancredo Neves, com a eleição. Tancredo morreu em 21 de abril de 1985. O Bailei estreia em outubro de 1983. O ano de 1984 é todo Diretas Já, do qual a gente participou. Então, ajudou a gente, como em- preendimento, como teatro, e o teatro como inserção social, porque a gente ia para as passeatas. É chato dizer isso, mas todo o movimento repressivo ajudou o teatro mais do que atrapalhou. Tanto que, quando veio o final da censura, um monte de texto engavetado não tinha sentido, não tinha qualidade artística. Isto a gente tem que reconhecer, isso gerava uma forma de pensar, uma forma de produzir, uma forma de criar, uma forma de escrever que depois teve que achar um caminho. Também todo este movimento, toda esta época, defi- nia bem o nosso público. Tinha alguém que queria ver alguma coisa e tu já sabias onde estava. Hoje, o público está muito disperso. O que fazer é uma grande ques- tão. O que falar, quando falar, para quem falar é um problema muito sério. É muito mais difícil hoje. Expectativas
Eu acredito muito no teatro. Acho que os trabalhos que tenho feito sempre têm buscado alguma coisa que en- volva este processo de identidade e de reflexão. Uma peça que eu acho muito importante e que teve uma repercussão média é O Rei da Escória, que é sobre a
loucura, que junta vários universos da minha atuação, a
psicanálise e o teatro. É uma história bem interessante,
primeiro porque ela foi me dada por um supervisor [do
Hospital Psiquiátrico São Pedro] e de uma maneira muito
informal. Terminou a supervisão, o cara me deu uma fita:
“Escuta isto aí, vê o que tu achas”. Eu comecei a escutar
o cara contando uma história e larguei num canto. Um
tempo depois, escutei a história e achei legal. Eu tinha
um grupo de trabalho – era 1987, 1988, por aí –, e que-
ria fazer um trabalho para dar uma virada, estava meio
saturado do Bailei na Curva, era muito em cima de mim,
muita pressão. Pensei: “Vou fazer um trabalho agora para
radicalizar, para dar uma virada na carreira”. Eu tinha uma
Vespa. Botei uma máquina de escrever na garupa e me
mandei para Rainha do Mar, no inverno. Estava vazia a
praia, não tinha ninguém. Fiquei sexta, sábado e domin-
go e escrevi duas peças. A primeira foi O Rei da Escória,
baseada nessa história, e a outra foi A Zona Proibida. E
essa peça, A Zona Proibida, eu levei em cena logo de-
pois, só que ela foi o meu maior fracasso. Foi uma peça
boa, era legal, mas não teve nenhuma repercussão pú-
blica. Era uma história muito louca, na real. Anos depois,
eu recuperei o texto de O Rei da Escória e retrabalhei.
Conta a história de um psicótico do São Pedro, institucio-
nalizado, que já não tem mais nome, então todo mundo
chama ele de Xis, porque ele assina com um “xisinho”.
Num determinado momento, um médico, que começa
a investir no Xis, acredita que ele tem o desejo de visi-
tar a família e se propõe a levar ele. Só que o endereço
que a família deixa – e isto era comum no São Pedro
– era falso. Deixam ele para se livrar da loucura, lugar
de loucura é no hospício. E ele faz esta trajetória, volta
para casa, mas não encontra o endereço. Aí ele encontra
uma pessoa, e esta pessoa leva a outra, que leva a outra
e ele reconstrói toda a trajetória dele e descobre o seu
nome, Reinaldo, aí tem a história do “rei”. Ele volta para
o hospital, mas já com um nome. É uma história muito
bonita, de aventura, de trajetória, de iniciação, de iden-
tidade, que é uma coisa que eu gosto e que é essencial
no teatro. Identificar a cidade, as pessoas, as situações.
Foi muito bom esse trabalho, só que foi difícil de fazer. A
vantagem é que ele integra várias áreas da minha vida,
a parte de psicanálise, a parte de consultório com o pal-
co. Eu acho que foi o trabalho em que eu mais consegui
linkar estas duas coisas.
Sina
Tenho uma sina sobre a minha cabeça: eu fiz Bailei na Curva. Tudo que eu faço é comparado, mesmo que não tenha nada a ver. Depois que eu fiz Bailei... fui fazer tea- tro de rua, o Teatro da Aparência8, para tentar sair des- sa comparação, mas é inevitável. Na verdade, tenho muito orgulho do Bailei... Foi essencial para mim, foi importante para a cidade, foi importante para o contex- to geral. Acho que era isto que tinha que ser feito. O Rei da Escória foi sensacional, mas tem essa comparação que sempre atrapalha. Não tem como escapar, é como, sei lá, o Guimarães Rosa depois que fez o Grande Ser- tão: Veredas. “Ah, o Grande Sertão é melhor...”.
Preconceito
O pensamento comum está sempre impregnado de preconceito, porque está baseado em pressupostos. Esta é uma grande dificuldade dos trabalhos e também na vida, na clínica, no consultório. O preconceito entra dentro do nosso pensamento e o absorve de uma ma- neira que quando a gente percebe “já foi”. Eu gosto de usar pré-conceito e preconceito, como um juízo ou um pré-juízo. É um “prejuízo” no pensar. Se uma ideia não anda, não flui, não procria. A ideia foi feita para ter fi- lhos, uma ideia é uma mãe, ela tem que gerar, tem que
Sina
Tenho uma sina sobre a minha cabeça: eu fiz Bailei na Curva. Tudo que eu faço é comparado, mesmo que não tenha nada a ver. Depois que eu fiz Bailei... fui fazer tea- tro de rua, o Teatro da Aparência8, para tentar sair des- sa comparação, mas é inevitável. Na verdade, tenho muito orgulho do Bailei... Foi essencial para mim, foi importante para a cidade, foi importante para o contex- to geral. Acho que era isto que tinha que ser feito. O Rei da Escória foi sensacional, mas tem essa comparação que sempre atrapalha. Não tem como escapar, é como, sei lá, o Guimarães Rosa depois que fez o Grande Ser- tão: Veredas. “Ah, o Grande Sertão é melhor...”.
Preconceito
O pensamento comum está sempre impregnado de preconceito, porque está baseado em pressupostos. Esta é uma grande dificuldade dos trabalhos e também na vida, na clínica, no consultório. O preconceito entra dentro do nosso pensamento e o absorve de uma ma- neira que quando a gente percebe “já foi”. Eu gosto de usar pré-conceito e preconceito, como um juízo ou um pré-juízo. É um “prejuízo” no pensar. Se uma ideia não anda, não flui, não procria. A ideia foi feita para ter fi- lhos, uma ideia é uma mãe, ela tem que gerar, tem que
produzir, tem que se mexer. Senão, não adianta, senão
é uma ideia para ficar se masturbando: “Olha que ideia
boa que eu tive”. Não adianta nada. Se tem um pré-
-juízo, a ideia para, estanca, não prolifera, não evolui,
não se transforma. E aí a gente tem uma sociedade
estanque, um modo de pensar que vai ficando cada
vez mais engessado e cada vez mais “opinião comum”.
Quer dizer, a liberdade de pensar, de repensar o pensa-
do, nesse sentido, é fundamental.
Críticas
Na Medicina sempre teve gente fazendo coisas: o Moacyr Scliar, e anteriormente, o Cyro Martins, es- critores e médicos. Tem uma história nisso. Mas como ator, diretor ou teatrólogo e médico psicanalista não tinha ninguém em Porto Alegre. A única referência era o Eduardo Pa- vlovsky, em Buenos Aires, um cara que enfrentou um estudo muito rigoroso para poder botar em ação a veia artística. Uma vez, nós conversamos, e o Pavlovsky disse que o analista dele falava que ele estava sendo exibicionista, querendo fazer teatro, que era uma coisa histérica. E o Pavlovsky: “Pô, é uma paixão estética, é um desejo de comunicação”. Em um determinado mo- mento, eu tive muitas críticas ao ponto de pessoas não me encaminharem pacientes. Ou acharem que “o Júlio está pirando” ou “está atuando. O que o cara pensa que é?”. Ultimamente, isso está mudando. Como não venho afrontando ninguém, o trabalho que eu faço é digno, é sério, tanto no teatro quanto na psicanálise – e na área didática, também. Acho que, gradativamente, as coisas vão sendo esclarecidas. Mas acho que é um espaço difícil de sustentar, porque envolve tanto a vida privada, que a questão artística expõe, e este é um pro- blema, quanto a intimidade, que é do trabalho analítico trabalhar com a intimidade. Então, tenho que achar um espaço, uma maneira de conciliar estes dois vértices. Acho que estou conseguindo.
Caráter didático da arte
Acho que mais importante que o caráter didático – que tem – é o caráter experiencial. O que vale a pena na arte, e em quase tudo na vida, também, é a experiên- cia. É viver uma coisa, mesmo que seja uma infecção, mesmo que seja um jogo criativo. Em qualquer circuns- tância, acho que a experiência é fundamental. A gente teve uma influência, no começo dos anos 1980 em Porto Alegre, do Grips Theater Berlin, que era um grupo alemão, que meio que fez umas franquias pelo mundo inteiro. Eram uns caras que estudaram Bertolt Brecht e aplicaram em peças infantis. Então, cada peça infantil tinha uma proposta de esclarecimento, de transformação. Só que as peças – eu não sei se é porque eram traduzidas direto do alemão e tinha toda uma cultura alemã, mais pesada – eram muito chatas, embora a mensagem fosse ótima. Acho que a questão didática tem que passar pela experiência e pelo prazer. Aí tu vais aprender, aí vai valer a pena. O teatro é exemplar nisso. É uma coisa dionisíaca, é um prazer. É um jogo, é um sair de si. Tem duas palavras no teatro que são essenciais: o entusiasmo e o êxtase, que é ser tomado pelo espírito divino e transcender esse espírito. É o ele- mento dionisíaco do teatro: tomar o espírito de Deus, que era também tomar um vinho, e transcender, viver outra realidade. E isto tem, na sua essência, um caráter experiencial, é uma experiência de transformação. Se fosse dentro de um consultório, seria um insight, tu descobres uma coisa que te transforma. É um conheci- mento que transforma.
Críticas
Na Medicina sempre teve gente fazendo coisas: o Moacyr Scliar, e anteriormente, o Cyro Martins, es- critores e médicos. Tem uma história nisso. Mas como ator, diretor ou teatrólogo e médico psicanalista não tinha ninguém em Porto Alegre. A única referência era o Eduardo Pa- vlovsky, em Buenos Aires, um cara que enfrentou um estudo muito rigoroso para poder botar em ação a veia artística. Uma vez, nós conversamos, e o Pavlovsky disse que o analista dele falava que ele estava sendo exibicionista, querendo fazer teatro, que era uma coisa histérica. E o Pavlovsky: “Pô, é uma paixão estética, é um desejo de comunicação”. Em um determinado mo- mento, eu tive muitas críticas ao ponto de pessoas não me encaminharem pacientes. Ou acharem que “o Júlio está pirando” ou “está atuando. O que o cara pensa que é?”. Ultimamente, isso está mudando. Como não venho afrontando ninguém, o trabalho que eu faço é digno, é sério, tanto no teatro quanto na psicanálise – e na área didática, também. Acho que, gradativamente, as coisas vão sendo esclarecidas. Mas acho que é um espaço difícil de sustentar, porque envolve tanto a vida privada, que a questão artística expõe, e este é um pro- blema, quanto a intimidade, que é do trabalho analítico trabalhar com a intimidade. Então, tenho que achar um espaço, uma maneira de conciliar estes dois vértices. Acho que estou conseguindo.
Caráter didático da arte
Acho que mais importante que o caráter didático – que tem – é o caráter experiencial. O que vale a pena na arte, e em quase tudo na vida, também, é a experiên- cia. É viver uma coisa, mesmo que seja uma infecção, mesmo que seja um jogo criativo. Em qualquer circuns- tância, acho que a experiência é fundamental. A gente teve uma influência, no começo dos anos 1980 em Porto Alegre, do Grips Theater Berlin, que era um grupo alemão, que meio que fez umas franquias pelo mundo inteiro. Eram uns caras que estudaram Bertolt Brecht e aplicaram em peças infantis. Então, cada peça infantil tinha uma proposta de esclarecimento, de transformação. Só que as peças – eu não sei se é porque eram traduzidas direto do alemão e tinha toda uma cultura alemã, mais pesada – eram muito chatas, embora a mensagem fosse ótima. Acho que a questão didática tem que passar pela experiência e pelo prazer. Aí tu vais aprender, aí vai valer a pena. O teatro é exemplar nisso. É uma coisa dionisíaca, é um prazer. É um jogo, é um sair de si. Tem duas palavras no teatro que são essenciais: o entusiasmo e o êxtase, que é ser tomado pelo espírito divino e transcender esse espírito. É o ele- mento dionisíaco do teatro: tomar o espírito de Deus, que era também tomar um vinho, e transcender, viver outra realidade. E isto tem, na sua essência, um caráter experiencial, é uma experiência de transformação. Se fosse dentro de um consultório, seria um insight, tu descobres uma coisa que te transforma. É um conheci- mento que transforma.
Individualismo versus solidariedade
Do ponto de vista cultural, dentro da experiência es- tética, tem um crescimento. Acho que a gente ainda vive muito as coisas de uma forma superficial. Mas isso não é privilégio do teatro. Acho que a superficialidade é
Do ponto de vista cultural, dentro da experiência es- tética, tem um crescimento. Acho que a gente ainda vive muito as coisas de uma forma superficial. Mas isso não é privilégio do teatro. Acho que a superficialidade é
uma doença da nossa civilização. A gente vive as coi-
sas muito depressa e elas terminam muito rápido. O
inimigo nosso, hoje, é o fast, é a rapidez. Por outro lado,
a gente também não pode ficar esperando as coisas
acontecerem, tem que se agilizar. Acho que, ao mesmo
tempo em que tem uma melhora, tem uma piora. Ao
mesmo tempo em que tem muita coisa acontecendo,
nesse sentido da experiência, da vivência e do cresci-
mento emocional através da arte, acho que tem uma
certa inércia interior que se reflete na falta de solidarie-
dade. Aí é o ponto-chave do crescimento. Se nos anos
1970 e 1980 a questão era identidade, eu acho que de
2000 para cá a questão é a solidariedade. Acho que
a questão principal da nossa civilização é isso: como
se envolver quando a gente está tão envolvido com a
gente mesmo? Este é o impasse.
Reduto do humano
Não acho que os meios virtuais venham a substituir o teatro. Talvez, nesse sentido, o teatro possa ser efetiva- mente um reduto da humanidade, do humano. Eu tenho essa ideia porque acho que na comunicação é essen- cial a presença do corpo. Não acredito, por exemplo, em psicoterapia pela internet, ou virtual, mesmo olhan- do a imagem. Acho que a coisa mais importante que a gente tem não são as palavras que se diz. A nossa força maior é ainda relacionada ao não verbal, à presen- ça do corpo. O falar é importante, e eu acredito muito na palavra, mas a presença física é fundamental. Então,se a gente vai começar a se comunicar pela internet ou pelo virtual, vai perder uma coisa que é essencial e que vai fazer diferença entre as pessoas. Pegando o ator como modelo: têm atores que fazem as coisas todas certinhas, eles dão a intenção, o desenho dramático da fala, o olhar, o braço, e tu não sentes nada. E tem outro cara, que está ali, meio inerte, atrapalhado, vai lá, fala um negócio e tu te emocionas. A tecnologia, a técnica, o tecnicismo são fundamentais, mas tem alguma coisa desconhecida dentro de nós, uma coisa muito primitiva, que é o nosso melhor. A gente tem ainda uma mente muito primitiva que é uma fonte de criatividade que não conseguimos explorar suficientemente, nem na arte, nem na ciência, nem em outros lugares. E é este feeling que faz a diferença nos grandes clínicos. O cara tira uma coisa lá da cartola e tu ficas assim: “Como é que aquele cara pensou nisso?”. Ele está lendo o objeto com múltiplas leituras. O espelhamento que ele faz do sujeito é muito complexo. É a velocidade de estar piscando o olho, é a orelha, é o tamanho da boca, é o clima que está se produzindo, é o ritmo respiratório, é como o cara mexe a cabeça –, estes pequenos deralhes dizem coisas. A maioria deles a gente não sabe o que é,mas há a chance de um dia vira saber. E issosó vai acontecer tendo um encontro, corpo a corpo. Gosto de informática, uso o tempo todo, mas acho que, sem a presença física, a gente perde 90 por cento do humano.
Reduto do humano
Não acho que os meios virtuais venham a substituir o teatro. Talvez, nesse sentido, o teatro possa ser efetiva- mente um reduto da humanidade, do humano. Eu tenho essa ideia porque acho que na comunicação é essen- cial a presença do corpo. Não acredito, por exemplo, em psicoterapia pela internet, ou virtual, mesmo olhan- do a imagem. Acho que a coisa mais importante que a gente tem não são as palavras que se diz. A nossa força maior é ainda relacionada ao não verbal, à presen- ça do corpo. O falar é importante, e eu acredito muito na palavra, mas a presença física é fundamental. Então,se a gente vai começar a se comunicar pela internet ou pelo virtual, vai perder uma coisa que é essencial e que vai fazer diferença entre as pessoas. Pegando o ator como modelo: têm atores que fazem as coisas todas certinhas, eles dão a intenção, o desenho dramático da fala, o olhar, o braço, e tu não sentes nada. E tem outro cara, que está ali, meio inerte, atrapalhado, vai lá, fala um negócio e tu te emocionas. A tecnologia, a técnica, o tecnicismo são fundamentais, mas tem alguma coisa desconhecida dentro de nós, uma coisa muito primitiva, que é o nosso melhor. A gente tem ainda uma mente muito primitiva que é uma fonte de criatividade que não conseguimos explorar suficientemente, nem na arte, nem na ciência, nem em outros lugares. E é este feeling que faz a diferença nos grandes clínicos. O cara tira uma coisa lá da cartola e tu ficas assim: “Como é que aquele cara pensou nisso?”. Ele está lendo o objeto com múltiplas leituras. O espelhamento que ele faz do sujeito é muito complexo. É a velocidade de estar piscando o olho, é a orelha, é o tamanho da boca, é o clima que está se produzindo, é o ritmo respiratório, é como o cara mexe a cabeça –, estes pequenos deralhes dizem coisas. A maioria deles a gente não sabe o que é,mas há a chance de um dia vira saber. E issosó vai acontecer tendo um encontro, corpo a corpo. Gosto de informática, uso o tempo todo, mas acho que, sem a presença física, a gente perde 90 por cento do humano.
Renovação
Nos anos 1980, os primeiros que iam ao teatro eram os que tinham mais ou menos a mesma faixa etária da gente que estava fazendo – dos 18 aos 29 anos. Este era o nosso espectro de idade na primeira temporada do Bailei... Na sequência, a peça começou a entrar em ou- tras camadas sociais e em outros segmentos da cultura, e aí começou a ter mais gente de mais idade. Quando a peça voltou em 1994, 1995, aí já eram os filhos. E agora, 2000, 2010, eles estão levando os netos, os filhos estão levando os filhos. Então, tem uma transmissão dentro disso. Agora, qual é a recepção nos anos 1980 e qual é a recepção hoje? O que eu noto hoje é que o público é mui- to mais impaciente. O público mais jovem não aguenta os grandes clássicos, porque eles se repetem muito e o cara está acostumado a [ter] dez megas. É assim: clicou tem que aparecer. Vamos brincar com uma coisa sagra- da: Hamlet. No primeiro ato aparece o espectro do pai dele. Na segunda ou terceira cena do primeiro ato, o pai diz: “Teu tio me matou”. Hamlet leva cinco atos para se vingar. Hoje as pessoas não têm paciência. Esse tempo de “cocção”, de cozinhar, de preparar a coisa é humano, e a gente tem que voltar a cultivar isso, a gente está perdendo. Do ponto de vista artístico, tem que dar conta disso também, dessa necessidade, dessa voracidade, dessa rapidez de absorção, sob o risco de virar uma coisa anacrônica, do teatro virar uma coisa de velho.
Nos anos 1980, os primeiros que iam ao teatro eram os que tinham mais ou menos a mesma faixa etária da gente que estava fazendo – dos 18 aos 29 anos. Este era o nosso espectro de idade na primeira temporada do Bailei... Na sequência, a peça começou a entrar em ou- tras camadas sociais e em outros segmentos da cultura, e aí começou a ter mais gente de mais idade. Quando a peça voltou em 1994, 1995, aí já eram os filhos. E agora, 2000, 2010, eles estão levando os netos, os filhos estão levando os filhos. Então, tem uma transmissão dentro disso. Agora, qual é a recepção nos anos 1980 e qual é a recepção hoje? O que eu noto hoje é que o público é mui- to mais impaciente. O público mais jovem não aguenta os grandes clássicos, porque eles se repetem muito e o cara está acostumado a [ter] dez megas. É assim: clicou tem que aparecer. Vamos brincar com uma coisa sagra- da: Hamlet. No primeiro ato aparece o espectro do pai dele. Na segunda ou terceira cena do primeiro ato, o pai diz: “Teu tio me matou”. Hamlet leva cinco atos para se vingar. Hoje as pessoas não têm paciência. Esse tempo de “cocção”, de cozinhar, de preparar a coisa é humano, e a gente tem que voltar a cultivar isso, a gente está perdendo. Do ponto de vista artístico, tem que dar conta disso também, dessa necessidade, dessa voracidade, dessa rapidez de absorção, sob o risco de virar uma coisa anacrônica, do teatro virar uma coisa de velho.
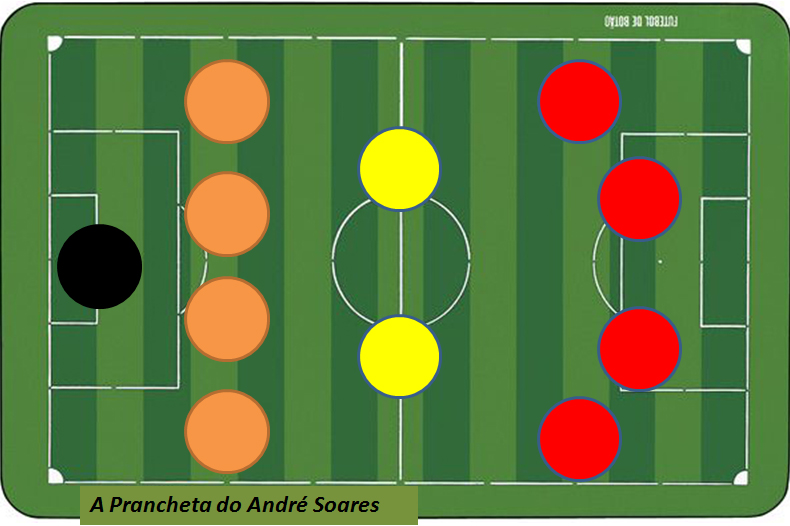
Comentários