A Mulher do Pai
Ele me tirou de lá e me deu dinheiro. Eu sabia para que o dinheiro deveria servir. Deveria servir para me tirar daquele mesmo lugar. Do mesmo ponto, daquela mesma vida. E o mesmo deveria servir para a bolsa, para os vestidos de marca e para os sapatos. Ele me dizia, insistia, que quando os sapatos estivessem muito usados eu não deveria consertar. Comprasse outro. Comprasse dois. Mas nunca deu tempo de usar até o fim, até ponto de não ter mais nada, de jogar fora. E o dinheiro dele servia para colocar outro no lugar. Ou andar descalço, caso quisesse continuar. E o mesmo serviu para o paletó e as calças que vestiram o morto. Terno cinza com risca de giz, um Armani que fiz questão de colocar. Por respeito, gratidão e admiração. Era grande a indignação pelo desperdício. A família conspirava entre um café e uma bolacha de velório, lançando olhares, flexadas de ódio que me fortaleciam. O que eu fiz e faria se novo, foi feito. Eu faria como minha mãe me ensinara que meu pai faria se eu o tivesse conhecido. Conhecido o pai que não conheci, que imaginava de terno assim na missa de domingo e nas noites de serestas nos bares com cadeiras na calçada. Meu pai boêmio, ser noturno e nunca conhecido. Um dia deitou com minha mãe e foi embora no amanhecer. Uma mancha no lençol foi a marca do meu nascimento. Um mancha que foi suprida, desenhada e rescrita com o casamento, Dinis, José Dinis, pai, me retirou daquele lugar sem nome, como a restituição da família, a dignidade que nunca tive. Vesti o morto com o melhor terno que pude comprar. E fui descalça ao velório. Pés no chão. Resgando a carne por dentro. Rasgando tudo. Rasgando o dinheiro que a família tanto almejava, o dinheiro que ele me proporcionou. Rasgando.
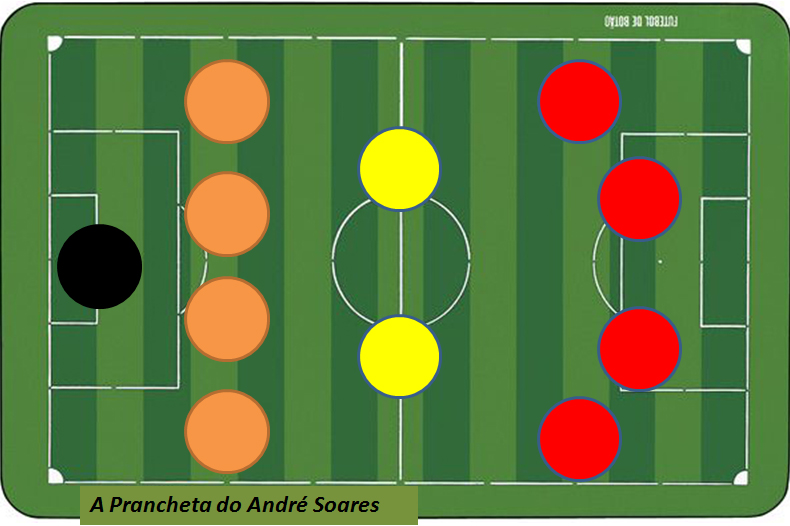
Comentários